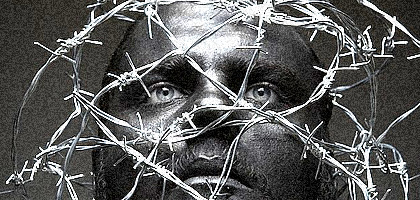Não é comum, hoje em dia, que se coloque o nome ao próprio filho de Emanuel; é nome antigo, concordo, como os que denominaram crianças em 1920, hoje avós. Ainda assim, e mesmo com a possibilidade de que seja chamado de Mané pelos seus, meu filho levará o nome Emanuel. Emanuel Girarde, com algum outro sobrenome no meio. O motivo é nobre, amado filho — e agora, embora você ainda não exista, volto-me a ti pela primeira vez —: a origem de seu nome é hebraica e, quando traduzido, significa Deus conosco. Daí sua nobreza. E sendo assim, Emanuel, não nos importa, portanto, o que acham — e eu acho lindo; importa, sim, o seu significado. Emanuel. […] A refletir, decidi que o primeiro de meus textos destinado exclusivamente a ti visa lhe apontar alguns caminhos. Não que sejam os mais verdadeiros e consideráveis caminhos, mas talvez ainda válidos em sua geração, mesmo que tão tão distante.
Sobretudo, Emanuel, valorize a sua família e os seus amigos. Porque todo elemento que estiver num conjunto externo ao conjunto de seus amigos e de sua família, meu filho, não é elemento fundamental o suficiente. Aqui, enfatizo: quando eu digo sobretudo, digo porque a vida comumente nos apresenta — em frequência altíssima! — muitos atrativos aparentemente mais interessantes do que uma tarde em família ou uma conversa entre amigos. Então, abocanhados pela tentação, substituímos o fundamental pelo supérfluo. Somente para que melhor entenda, uma tarde em frente a um computador — ou qualquer que seja o nome do dispositivo que o conecta à internet —, algumas horas em frente a um videogame ou mesmo um bate-papo à toa com a menina que você tanto gosta, por exemplo, nunca serão suficientes para substituí-los à altura. Sobretudo, filho, valorize sua família e os seus amigos porque eles realmente estarão ao seu lado nos momentos em que mais necessitar, nas horas em que você mais precisar de uma mão forte para lhe ajudar a levantar, a dar uma sacudida e seguir em frente. Valorize-os porque eles te amam de verdade, sem quaisquer interesses. […] E se um dia, meu caro, você resolver constituir a própria família, saiba bem que deverá encarar tal sonho como algo sério, ou seja, algo que não deve servir de prenda, sob nenhuma hipótese, nos leilões à toa que são promovidos por aí. Isso significa que você não deve se empoleirar com qualquer bonitinha que lhe aparecer bem vestida, com o corpinho sarado, toda oferecida, a arrebitar o traseiro em sua direção. Não a sobreponha em sua escala de importância. Aqui, meu filho, assim como no apontamento anterior, é a sua futura família que deve estar em primeiro lugar na mente, não o status ou a beleza de sua mulher. Fuja, portanto, dos leilões de sonhos que provavelmente seus amigos promovem junto às mais bonitinhas de sua turma; ao invés disso, escolha uma mulher admirável que sonhe tão alto quanto você, abrace-a forte e siga com ela em frente, superando os obstáculos que defrontarem o relacionamento de vocês, dia após dia. […] Pratique esportes e torça para o São Paulo Futebol Clube, ainda que sua querida mãe torça para o Santos ou para o Corinthians. É que, caso você não o faça, perderá oportunidades de ir a estádios de futebol comigo. E eu posso lhe afirmar, pelas experiências que tive com seu avô, que gritar gol ao lado do pai é uma das sensações mais bacanas que existem. Além do mais, considerando o dia em que escrevo este texto, o tricolor paulista é o time mais vencedor do Brasil. […] Aprenda a gostar de ler e leia muito na adolescência. Se o fizer, praticamente excluirá de si a petulância típica dos adolescentes e instalará um catalisador em seu sistema mental, com o qual as coisas serão mais rápidas! […] Na dura caminhada, Emanuel, exceto no caso em que estiver numa improvável e remota era gerida por um sistema menos obsoleto que o capitalista, você precisará de dinheiro. Dinheiro para o cotidiano, dinheiro para se divertir, para fazer compras e para comprar seu primeiro um-ponto-zero e subsequentes carros, mas não só; principalmente, precisará de dinheiro para manter a guarida de sua família. Decerto você também chegará à faixa etária em que vislumbrará a aquisição de um carro esportivo, a mansão de seus sonhos ou mesmo na fase em que projetará uma conta bancária recheada, com sobras para investimentos. Sugiro, Emanuel, independente do tamanho de seus sonhos, que você faça boas escolhas profissionais e tenha o pé no chão para não se frustrar tanto. Por um lado, se optar por ser funcionário, siga à risca o protocolo do mercado e seja proativo, sempre estudando bastante e à frente de outros profissionais; por outro, se optar por empreender, prepare-se para sofrer com a falta de dinheiro e estrutura no início dos tempos, bem como para lidar com a pressão por resultados imediatos, que, justamente por serem imediatos, são praticamente impossíveis de se conquistar num só clique. Em relação ao dinheiro, meu filho, tenha muita paciência, pois o alcance da estabilidade na vida financeira acontece aos poucos, bem aos poucos, tijolo por tijolo. Esteja ciente, entretanto, que, apesar de sempre pressioná-lo para que cresça nesse sentido, eu sempre estarei ao seu lado nas épocas de vacas magras, exatamente como ao meu lado seus avós estiveram. […] No decorrer da vida, Emanuel, não guarde nenhum tipo de rancor. Afirmo-lhe com propriedade que rancor é o pior sentimento da face da Terra, um típico estraga-vidas. Assim, se porventura nós discutirmos, brigarmos e as cabeças pegarem fogo, façamos as pazes. Esqueçamos sem traumas a experiência ruim porque, afinal, nossa família será sempre maior. […] E, por fim, meu filho, prepare-se para os tempos em que nossos papeis naturalmente vão se inverter: eu cuidarei de ti até me tornar mais fraco e, então, será a sua hora de cuidar de mim e de sua querida mãe. Quando essa época chegar, acompanhe-nos, esteja ao nosso lado. Nós precisaremos.
Não que os caminhos sejam os mais consideráveis, querido filho. Não tenho dúvidas de que cada qual os próprios caminhos traça. Talvez estes aqui descritos sejam válidos não só para ti, mas também para mim. É que, hoje, os caminhos que por aqui sigo são por ti, por Sofia. São caminhos que traço somente para encontrá-los em breve, logo mais, para um forte abraço e por toda uma vida em família. Com sabedoria e junto a Deus.
Espero-te, filho.