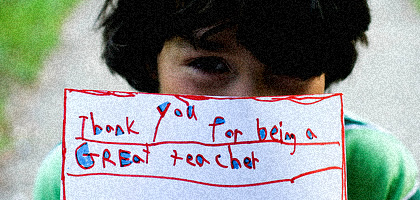Ainda me lembro muito bem dos traços de Ernesto. Era alto, forte, ranzinza, de poucos sorrisos e apaixonado por Luiza, com quem chegou a comemorar bodas de ouro. Tinha um Voyage azul bem cuidado, mas dirigia mal como só ele mesmo. No trânsito, entoava palavrões em voz alta mesmo nas situações em que estava absolutamente errado. Como bom jogador de truco, dizia que a vitória na primeira mão valia mais do que um caminhão de melancia. Acordava diariamente às seis para inventar algo ou caçar alguma tarefa — ainda que inútil — para fazer. Se nada encontrasse, pregava nada em lugar nenhum. Também arrumava o pomar, plantava frutas, legumes e ainda cuidava do sítio em Careaçu como se fosse dele. Pensando bem, simbolicamente era; chegou a morar ali durante meses. Se numa palavra pudéssemos defini-lo, decerto tal palavra seria pescador. Sempre à beira dos rios, pescar era uma de suas paixões e o pantanal mato-grossense, o seu destino ideal. Culpava o vento e a temperatura quando voltava sem peixes, com as mãos abanando. E ainda assim, sempre firme e otimista, não negava quaisquer convites para manhãs de pescaria com filhos, netos e amigos. (…) Ernesto foi meu inesquecível avô paterno.
Certa vez, com o intuito de minimizar os gastos com iscas e ocupar seu tempo livre com mais uma de suas obras, vovô se enfurnou na construção de um minhocário que, de tão bom, perdura até hoje. O problema: não há registros de que o mesmo tenha sido usado sequer uma vez. (…) Então, ao refletir, acabei entendendo.
Aos domingos, bem cedo, ele costumava reunir toda a família para o almoço. Preparavam uma macarronada para 30, churrasco à bancarrota e montavam algumas mesas de truco, muitas vezes com baralhos surrados de tanto manuseio. Varávamos o dia, saíamos de lá tarde da noite. E toda a família ia, além de alguns vizinhos e amigos mais próximos. A casa sempre cheia. Meus primos e eu, ainda crianças, sentávamos aos pés do sofá para assistir aos programas de TV da época — os debochados anos 90 — e também aos jogos de futebol do São Paulo Futebol Clube. Vovô, são-paulino roxo, tinha uma poltrona cativa. E dali, descalço, ele torcia. Dali, descalço, ele transformava os dedos do próprio pé em algo mágico: era praticamente uma ferramenta de guerra. Um bicho. Para uma criança, divertidíssimo.
Pasme: Ernesto conseguia beliscar com os dedos do pé. Ambos. E mais: ele também conseguia fazer com que seus movimentos, lentos, criassem uma atmosfera de suspense, expectativa. O rabo do olho de um lado e, pelo outro, os pés dele vinham vagarosamente. Eis que, quando nos mexíamos, um bote certeiro. E o beliscão era forte, sem dó. Gritávamos, criávamos mecanismos de defesa, apertávamos o pé gigante do vovô como se estivéssemos matando o bicho. Era uma guerra. Era o retrato do amor que ele tinha por seus netos. (…) Crianças, chamávamos aquele bicho de minhocão.
(…)
Talvez — prefiro acreditar — ele tenha construído o minhocário para que, agora, nós pudéssemos lembrar de tudo isso.
Saudades, Vovô.